Não fui para o enterro de meu avô, nem vou a funeral algum. Já disse aos meus pais que se meus olhos não se fecharem primeiro para eternidade, não irei sepultá-los. Digo isso não por maldade, egoísmo ou desamor, mas porque quero sempre estar com fresca memória da imagem das pessoas “vivas” em minha mente. E ainda que alguém vocifere: “Mas e as últimas homenagens?”. Devo dizer que depois da morte, a vida física acabou, e segue-se o juízo. Por isso, as homenagens devem ser prestadas em vida. Infelizmente terei de comparecer ao meu enterro, deste não posso mesmo escapar.
Meu avô Alcides era austero. Era rispidamente sério, e às vezes, com carranca de meter medo. Mas de quando em vez, se transmutava num impagável contador de “causos” engraçadíssimos. “Causos” estes que não só arrancavam risos da platéia encantada, porém que também o divertiam muito e amiúde. E era nessas horas que ele deixava escapar um sorriso maroto que se desenhava furtivo em seu rosto severo.
Nunca me esqueço de que logo que entrei na Academia, no primeiro ano, um professor de português, do curso de Direito, nos trouxe um texto para ser estudado e qual foi o meu espanto ao deitar os olhos sobre o papel. Era a história de São Saruê, tão soprada aos meus ouvidos pelo meu avô nos meus tempos de infante. A história da terra dos rios de leite, dos montes de carne assada, do chão de tapioca e beiju ... e por aí ia. A história eu conhecia bem de tão contada e recontada. Grande foi o meu espanto ao vê-la escrita, datada e assinada. O que para mim não passava de uma fábula perdida na noite do tempo, estava ali com toda riqueza de detalhes que só eu conhecia, e ainda mais, era de um tal de Camilo não sei das quantas, de Guarabira. Hoje eu sei que foi meu avô, muito travesso, que criou toda aquela maravilhosa alegoria que confunde-se com a história da gastronomia regional( aliás, que ele amava tanto). Com um pseudônimo teceu o fabuloso conto, tudo bem escondido e publicado na surdina, e que somente agora eu descobrira, só para embevecer e embalar a imaginação dos netos ávidos pelas suas histórias fantásticas. Esse conto de São Saruê nunca me saiu da cabeça. Uma rica herança de meu avô.
Meu octogenário avô já não fazia anos, ele simplesmente durava. Do alto da ladeira onde se fincava inscrustada a sua casa, ficava ele, sempre imponente, sentado em sua cadeira antiga, a contemplar o imenso “mundo de meu Deus”, o seu mundo “sem fim”. Era ali sentado que mostrava uma face de sua personalidade que muito me chamava à atenção, a Valentia. Ainda que mutilado pela praga da enfermidade que lhe consumia a alma e carcomia incessantemente suas carnes, meu avô era valente em todas as acepções da palavra. Ali sentado dizia que ia fazer e desfazer. Mandava e desmandava. Do alto de sua imobilidade era ágil com as palavras. Desconstruía o mundo e resconstruia tudo a sua maneira, ao seu sentir. Quixotesco, lutava altivo contra seus moinhos de vento, fazia ali suas revoluções e derrubava impérios. Era opinioso. Argumentava muitas vezes com bravura, braços ao ar. Tinha convicções fortes, posicionamentos duros, algumas vezes puerilmente conflitantes e um coração frouxo para as lágrimas que lhe chegavam rápido a qualquer emoção, por menor que fosse.
Mas como eu disse, sempre valente. Valente por ter de enfrentar tão cedo a tragédia de uma diabetes que o privou de tantos prazeres. Uma doença que lhe trouxe dissabores terríveis, ceifando alegrias indizivelmente honestas, como comer a se fartar de tudo que é doce e gostoso, ou de uma boa caçada no meio do mato, ainda que não pegasse nada, só pelo prazer de sentir pisar a terra, sentir o cheiro do mato ... Isso ele não fazia mais. E se fazia era sempre “carregado”, “levado”... Não! Meu avô que era homem de “independências” nunca aceitou de bom grado ser “carregado”, era homem demais para isso. Sempre resolveu tudo com a força de seus braços. Manteve mulher e filhos em épocas difíceis, assim como na natureza, cumpriu o papel do macho a proteger as crias, buscar o alimento... Esse era o meu avô-provedor.
Certamente, grandes traços de sua personalidade se explicam, ao se observar suas grandes frustrações diante das lutas a que teve de sobreviver. Perdeu no desabrochar do amadurecimento da vida, grandes deleites que podia ter desfrutado com a esposa, os filhos, os netos... Assim como esta carta, sua vida foi repleta de reticências cruéis, porém, apesar de tudo, sempre enfrentou as intempéries com soberba valentia. Era tão valente que só deixou a vida quando realmente desistiu da vida. Porque enquanto quis viver permaneceu guerreiro, resistiu ao furor das mais tenebrosas borrascas e sempre sobreviveu. Meu avô teimava em viver.
Minha já desgastada memória de concurseiro, abarrotada de artigos infindáveis, decorados a duras penas, não me permite mais lembrar de muita coisa sobre o meu avô. Porém, me lembro agora de algo que era sagrado em sua casa, o café da tarde. Aquilo era praticamente uma Instituição. Meu avô se preparava todo para sair, muitas vezes com um de seus velhos bonés a tiracolo. Descia a íngreme ladeira e ia ao encontro das fresquinhas fornadas de pão da padaria que ficava bem perto de sua casa. Nós, os netos, ficávamos ansiosos esperando aquela tão aguardada hora da tarde, em que o nosso avô aparecia com o saco de pães quentinhos, prontos a nos alegrar o paladar. Na mesa, devorávamos rápido o café delicioso de minha avó Percides com o pão do vovô, e toda a comilança era embalada pela história de São Saruê, que nessas agradáveis horas da tarde o avô Alcides adorava contar.
Lembro-me agora também, de que uma vez meu avô inculcou de comprar um sítio, mesmo sob os protestos veementes de alguns parentes mais chegados. O velho sítio tornou-se em pouco tempo a menina dos olhos dele. A casa-grande era abastada de espaço, com piso de cimento grosso batido, selada com portões de madeira que serviam de albergue a um sem número de cupins órfãos. A casa era ladeada por um espaçoso terraço onde nos abrigávamos nas tardes quentes, e era cercada por “pés” de tudo.
Recordo-me especialmente de uns cajueiros e laranjais frondosos. Lá tínhamos feijão, macaxeira, entre outras culturas de que não me lembro bem, e uma “casa” de fabrico de farinha mandioca. Não é preciso muito esforço para lembrar-me da dolorosa ferroada que sofri de um marimbondo enfezado de um laranjal, me amargando um dos dias em que visitava o sítio. Comíamos galinha de capoeira guisada com “bolinhos” de feijão verde com farinha. Assávamos castanha em latões do lado da casa. Espetávamos milho pra’ comer bem tostadinho depois de assado na fogueira improvisada. Deitávamos no terraço da casa para a sesta refestelante ao sopro suave da brisa morna da tarde... Eu era muito menino, porém tenho algumas lembranças bem vivas... Ali no sítio meu avô se realizava. Era o mais feliz dos homens, e mais homem que qualquer outro homem. No SEU sítio meu avô era REI. Aquele era seu mundo, seu reino, sua terra mais genuína, seu remanso mais precioso. Ali estava inteiro de alma, sem qualquer máscara ou fingimento, na completude do seu ser. Em harmonia com a terra, com a natureza, com o “mato” bem verde. Até hoje eu acho que aquele sítio era mesmo uma extensão de meu avô...
Penso que meu avô Alcides tinha cabelos brancos de avô de verdade. Óculos antigo, pesado e grave, como todo avô que se preze deve ter. Tinha a fala rouca e brava para reprimendas, entretanto voz mansa e pastosa para as doces histórias contadas aos netos. Como todo avô de respeito, tinha reumatismo, dor nas costas, pente antigo, talquinho cheiroso, calçolão, espingarda enferrujada e roupa bem velhinha de que gostava vestir. Cadeira velha pra’ só nela se sentar; manias e esquisitices diversas que só o avô legítimo apresenta. Cochilo fora de hora, sonhos a valer, esquecimento e rugas que fazem um verdadeiro avô. Usava “chapa”, apetrecho aliás, que só o autêntico avô possui( e não se engane, dentadura de gente em que não falta um ou dois dentes verdadeiros, atesta que o cidadão não pode ser avô, ou é um embusteiro). Avô que é avô, conta história e aumenta um pouco a alegoria, puxa a brasa pra’ sua sardinha, e nisso meu avô era “craque”. Avô que é avô guarda a casa, bota os netos pra’ dormir, faz carinho tímido, meio que sem jeito; não desaba na frente da gente, chora escondido pra’ que a gente não veja; é fortaleza nas horas de angústia; é super herói de poucos movimentos, cabelos brancos, travestido de vovô; se levanta da cama com o sol raiando cedinho. Avô que é avô, é serio às vezes, outras é bonachão e irreverente. É engraçado e displicente, desajeitado. Umas vezes é carrancudo e teimoso, outras vezes é doce e terno. Umas vezes é de cismar em não ir, outras é “Maria vai com as outras”... E meu avô sabia ser tudo isso... E ir inventando e se reinventando... Como um avô de verdade deve ser...
Despeço-me de meu avô na esperança de revê-lo inteiro, de “corpo” e alma (ou espírito, como queiram), sem tristeza ou qualquer dilaceração dolorosa do passado, lá na Glória. Porém, enquanto caminho por estas terras áridas, sempre a acompanhar o encarquilhar do mundo, quero não apenas espelhar-me no exemplo de sua valentia, de sua coragem e atitude diante das agruras da vida, mas quem sabe mesmo sorver, como quem bebe um elixir ou uma poção, um pouco da bravura intrépida, valentia descomunal e da coragem singular que lhe inspirou uma vida inteira.
Adeus por um instante, meu avô.
De seu neto, George.
(Este texto é dedicado à memória de meu avô e a prima Eloisy, a quem ele tanto amava)
 José Gonçalves no Pão de Açucar - Rio de Janeiro - 1957
José Gonçalves no Pão de Açucar - Rio de Janeiro - 1957





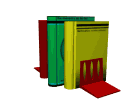




















.jpg)




















