Hospital
Souza Aguiar – Rio de Janeiro
A
Noite do dia 30 de março de 1972 na cidade do Rio de Janeiro ficou
conhecida como “A Noite do Apocalipse”.
Hoje
faz exatamente 48 anos que eu, como médico urgentista do Hospital
Souza Aguiar, trabalhei por mais ou menos 8 horas ininterruptas
dentro de um inferno, dissecando veias para administração de plasma
e soros nos pacientes graves com mais de 50% de área corporal com
queimaduras de 1º; 2º e 3º. Alguns, a meu lado, apesentavam os
músculos do corpo em carne viva já desprovidos da pele. Outros com
molambos de pele assadas penduradas por várias regiões do corpo em
meio a uma gritaria macabra: “Me socorra estou
morrendo”, e estavam mesmo, pois, à medida que eu e
meus colegas de Residência Médica realizávamos a dissecção de
veias, os gemidos iam diminuindo paulatinamente, de modo tal, que ao
chegarmos para dissecar as suas veias, já não respiravam mais.
De
ficar tanto tempo em uma só posição, cheguei a ficar com os pés
dormentes. Só depois é que notei que estava com os sapatos
encharcados de uma mistura pegajosa de sangue, soro e urina que
tomavam toda a superfície do piso da sala de urgência, tendo que
por todo esse tempo ficar inspirando aquele cheiro nauseabundo de
secreções misturadas a odores de carne queimada.
Agora,
em meio a uma pandemia dos infernos que, segundo as previsões da
OMS, vai deixar no Globo um rastro de mortos na casa dos milhões,
me sinto impotente diante de uma calamidade que se prenuncia
apocalíptica.
Sei,
perfeitamente, que já não tenho a mesma coragem e a mesma força de
outrora quando encarei de frente a tragédia de Reduc em Duque
de Caxias, a poucos quilômetros do Hospital vizinho à Praça da
República no Centro da Cidade Maravilhosa, transformada,
naquela ocasião, em um cemitério antecipado onde parentes choravam
seus 48 mortos e mais de cinquenta feridos em estado desesperador.
O clarão que descortinou todo o céu e fez da noite dia, junto ao som altíssimo das explosões de todos os reservatórios de gás da refinaria, e que
fizeram tremer as paredes do Hospital e quebrar vidros de algumas
janelas ficaram por muitas noites a atormentar o sono
em meu leito no quarto andar (reservado aos médicos residentes).
Eu
estava lá na noite de agonia que, ainda hoje no Rio de Janeiro é
lembrada como ─ “A Noite do Apocalipse”
A primeira imagem no topo da minha narrativa da ideia do horror, em detalhes, daquela grande tragédia em que o Governo Federal preferiu esconder o número de mortos, dentre eles 06 médicos, que nem hoje sabemos quem eram, pois a imprensa da época sob censura não podia revelar seus nomes.
A primeira imagem no topo da minha narrativa da ideia do horror, em detalhes, daquela grande tragédia em que o Governo Federal preferiu esconder o número de mortos, dentre eles 06 médicos, que nem hoje sabemos quem eram, pois a imprensa da época sob censura não podia revelar seus nomes.
Por
Levi B. Santos
Guarabira, 30 de março de 2020
Guarabira, 30 de março de 2020







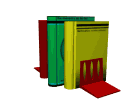




















.jpg)



















