
A expressão “terceira idade” veio atenuar ou suavizar a antiga, dura e cruel, porém real palavra: “velhice”. Fase importante da vida, pois, é nela que se montam os últimos cacos ou peças do grande quebra-cabeça de nossa existência, feito de restos de lembranças e experiências vividas por longos anos.
Qual seria a última imagem que teríamos de nós mesmos, ao concluirmos através de uma reflexão aprofundada o grande enigma existencial?
Lembro-me como se fosse hoje. Iniciava o curso médio no Ginásio São José de Alagoa Grande do Paó, quando invadido por um misto de temor e timidez, eu observava meu pai vaticinando para mim, do alto de sua autoridade como chefe da casa de máquinas da FSESP: “você ainda vai ser médico e chefe deste Hospital”! A primeira parte da sua profecia se cumpriu, porém, a segunda parte dela, para minha completa felicidade não chegou a acontecer. Na verdade, não tinha o perfil de chefe duro e mandão que àquela época se exigia. Identificava-me perfeitamente na posição de “servo” e não na de “senhor”. Muitas vezes fui tido como “rebelde” por me indignar com as injustiças cometidas contra minha pessoa, e contra meus iguais. Se me excedi em alguns casos, foi em prol da transparência e justiça no Serviço Público.
É do fruto envelhecido que se retira o azeite. Esse “azeite” na forma de aprendizado para o enfrentamento dos conflitos cotidianos, eu não tive a oportunidade de receber devidamente de meu pai. O destino não me reservou o direito de ouvi-lo no esplendor da maturidade em uma sincera conversa a dois, pois, o mesmo, partiu prematuramente, aos 38 anos, na flor da idade como se diz, sem deixar um último olhar, uma última palavra, ou um último conselho. Ao meio dia de um domingo quente de verão, precisamente no mês de fevereiro de l962 em pleno centro da cidade ele foi colhido violentamente por um “jipe” que saía do acostamento da rua, pela contramão. Entrou em coma, falecendo oito horas depois. Que ironia do destino! Ele tinha ido com sua motocicleta a procura de gelo para um amigo poli traumatizado, que estava agonizando no Hospital. O gelo que trazia serviu para ele mesmo.
Chegarei sem delongas ao cerne da questão. A razão maior desta crônica foi uma cena comovente, que tive a oportunidade de assistir a alguns dias. Se eu pudesse, momentos como aqueles, eu eternizaria fazendo parar o relógio do tempo.
É de um pai na decrepitude, já sem forças para sair do leito, sob o fardo pesado das doenças tão comuns nesta fase sombria da vida, que retiro algumas pérolas de extrema significação, para realizar uma profunda e sincera reflexão.
Logo agora, que acabo de entrar nos umbrais da terceira idade, o acaso me leva a presenciar um velho pai muito enfermo, sentindo-se no ocaso da vida, com a maioria dos filhos ao redor do leito. As suas pernas já não mais obedecem à vontade do cérebro, para um encontro que ele tanto gostaria: sentado à mesa, mastigando biscoitos e bolos com o café quente feito pela esposa, como fazia todas as tardes.
O pai dirige o olhar meigo e detido para um dos filhos que acaba de chegar da cidade onde mora. Aperta a mão dele, e fala emocionadamente: “Meu filho! Você faz parte de mim”! Nesta frase dita entre lágrimas, arrancadas com esforço lá do mais remoto do seu ser, deixou registrada a grandeza, humildade e reconhecimento de um pai frente a um filho. A filha primogênita que se encontra ao lado surpreende-se com a franqueza dos gestos e das palavras ouvidas da boca de seu pai e, fala assim de bate - pronto: “Em toda a minha vida, nunca ouvi do senhor tamanha declaração de amor”! O semblante desse pai irradia por alguns segundos, uma alegria incomum, tal qual o prazer saltitante de um menino ao encontrar, esquecido em um porão, um velho brinquedo que ele tanto amou. Em outras palavras, o que o velho pai estava a dizer, era: “Você é carne da minha carne”! Era como se estivesse a afirmar: “Quando eu partir desta vida, perderás uma parte de ti. E no vazio do que se perdeu, tu o preencherás com lembranças daquilo que de melhor pude te dar”.
Tudo isso fez despertar em mim reminiscências dos meus dezesseis anos de idade, quando perdi o meu pai abruptamente. O último presente que ele me deixou foi um silêncio representado pelo vazio de um quadro emoldurado, tanto por boas, como amargas lembranças eternizadas sob a forma de SAUDADE.
Crônica por; Levi B. Santos
Guarabira, 19 de Dezembro de 2006













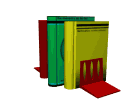




















.jpg)



















