
O Axioma Darwiniano diz: “Só os animais mais preparados ou bem dotados é que sobrevivem, através de sua capacidade de se adaptar ao meio em que vivem” — é a lógica determinista da seleção natural.
Mas a estética desse pressuposto é trágica quando se olha a história das civilizações. Por acaso, a história do homem não é um cemitério das grandes culturas que tiveram fins catastróficos em virtude da sua incapacidade de vencer os desafios?
Hoje, as pessoas mais propensas a absorver as exigências do meio social, são àquelas que têm caráter tipo mercantil; enquanto àquelas que têm dificuldade de se adaptar ao “modus vivendi” da modernidade são as que vão morrendo aos poucos. As que conseguem se adaptar ao imperativo do TER em detrimento do SER sobrevivem com mais facilidade, e são essas que, por sinal, têm pouco interesse em questões filosóficas e religiosas, como a de saber a razão por que estamos indo numa direção e não em outra.
Estudar ou tentar conhecer os sentimentos e afetos humanos mais profundos vai de encontro à “mega-máquina-civilizatória” na qual uma simples “peça” não pode fazer perguntas.
Sobre essa seleção (do Darwinismo pelo avesso), assim disse o discípulo de Freud, Erich Fromm, em seu livro “Ter ou Ser” (pág, 148):
“Os indivíduos com caracteres mercantis não têm apego profundo algum a si mesmos ou a outros, não têm outras preocupações no sentido profundo da palavra, não porque sejam egoístas, mas porque suas relações com outros e consigo mesmos são bastante superficiais. Isso também pode explicar porque eles não se preocupam com os perigos iminentes de catástrofes ambientais ou ecológicas”.
Foi não menos que o cientista Charles Darwin, quem demonstrou as conseqüências trágicas de um intelecto puramente científico e alienado. Escreveu ele em sua autobiografia, que até os trinta anos, gostava intensamente de música, poesia e artes, mas que por muitos anos depois perdeu todo o gosto por essas coisas. Foi o escritor e pensador Britânico E. F. Schumacher (1911 — 1977) quem captou de Darwin, essa afirmação: “Meu espírito parece ter-se tornado uma máquina para captar leis gerais de grandes conjuntos de fatos...”
Tudo indica que Darwin sofreu muito com esse processo de separação entre a razão e o coração, pois a supremacia do pensamento manipulativo cerebral parece correr junto com uma atrofia da vida emocional.
Versando sobre a paixão por Darwin, o filósofo, professor da PUC de São Paulo e ensaísta da Folha de São Paulo, Luiz Felipe Pondé, assim se expressou em seu ensaio - “Sobrevivente”:
“Dizem os especialistas que quando restam poucos exemplares de uma espécie é porque eles são o que de melhor ela produziu ao longo do tempo em que resistiu à violência do demiurgo cego que seleciona seus miseráveis mais adaptados [...]. Portanto, se um dia você encontrar pela frente o último representante de uma espécie, cuidado. Sua evidente extinção é prova de que ele faz parte do que melhor já habitou sobre a terra. Respeito seria indicado diante de tal infeliz.”
Aí está uma verdade Darwiniana: o ser humano que não se adaptar ao modelo atual de sobrevivência, parece mesmo estar condenado a ser uma espécie em extinção.
A esperança de salvação que resta para essa espécie, é que o darwinismo, pelo menos em questão de “alma”, possa estar errado em seu pressuposto básico.
Levi B. Santos
Guarabira, 28 de janeiro de 2011











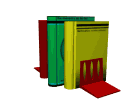




















.jpg)



















