
Lembro-me bem, era um meninote magro muito introspectivo, apelidado pelos adultos de casa como o “sonso” ─, aquele que dava o bote e escondia as unhas. Tinha então meus nove ou dez anos de idade, quando certas noites, era invadido por sonhos libidinosos. No dia seguinte, acordava então com um misto de deslumbrado prazer e ao mesmo tempo, sentimento de culpa. Toda aquela gama de sentimentos provinha do fato de ter experimentado algo que, para mim e para os meus pais, se revestia de um sentido impudico, luxurioso, pecaminoso e imundo. Cedinho, levantava-me do leito rápido em direção ao banheiro, ruborizadamente envergonhado, escondendo com as mãos tímidas, as marcas da descarga seminal instintiva e inocente, derramadas em brumas inculpadas que marcavam indelevelmente o velho e surrado pijama. Lá no antiquado e escorregadio banheiro de paredes lodosas tentava com muito esforço apagar as manchas endurecidas no tecido, usando água e um pequeno pedaço de sabão.
Naqueles sonhos estava a minha verdade oculta. Através deles aprendi a me conhecer tal como era, a despeito de todos os disfarces que usava perante os que me cercavam de cuidados.
Os sonhos eram tão reais e nítidos que me deixavam com o coração batendo apressado, como a querer sair pela boca, rolando pelas calhas do corpo, numa procura ingrata por algo que deixasse espaçar os arquejos mais arfantes. Sentia-me vil, sentenciado a uma culpa eterna, pois no meio em que vivia, os conceitos sobre um menino da minha idade, era de que deveria comportar-se como uma criança devota e crente exemplar. Perguntava para mim mesmo, quando das noites tórridas vividas sob meus tenros lençóis: “O que me levava a sentir tanta coisa junta, saindo aos borbotões, sem que eu tivesse o mínimo domínio?” Era como uma enxurrada de verão, levando de roldão a parede sólida que represava o grande e profundo lago dos desejos mais selvagens e inconfessos.
Naquela época eu já vinha treinando inutilmente reprimir certos desejos tidos como ilícitos, isto, nos momentos de vigília, enquanto os guardas do porão do meu pueril cérebro, não dormitavam. Porém, nos momentos de sono em que a consciência encontrava-se entorpecida e embalada pelos sopros cálidos de Morfeu, o sonolento e truculento vigia encarregado da “censura”, deixava de barrar os impulsos vindo do inconsciente, e os desejos mais recônditos escapavam como que se escoando pelas frestas das portas, derramando e inundando meu mundo dos desejos. O guarda temível que guarnecia a consciência, e que durante o dia oferecia uma brutal e ferrenha resistência, admitia nas trevas da noite, em sua sala de visitas, impulsos ocultos, antes inaceitáveis. E, à medida que a “censura” relaxava durante o sono, os desejos sexuais buscavam expressão através dos prazerosos sonhos. E que sonhos eram aqueles!
Após os inconfessáveis sonhos, me sentia uma espécie de lixo humano, matéria descartável, resto de algum detrito que algum dia foi gente. E nestes momentos me perguntava: “Será que o mesmo acontecia com os meninos do meu círculo de amizade?”. Apesar de tentar várias vezes, nunca tive a coragem de tratar desse assunto com os meus coleguinhas, sempre vencido pelo “pathos” virulento do tabu inculcado pelos meus pais.
Os conselhos de minha mãe estavam bem vivos em minha memória: “Não se junte com os moleques de rua!”. “Não brinque com essa ‘catrevagem’!”
Um belo dia, tive a oportunidade de ouvir um sujeito que fazia parte dos excluídos do nosso meio. Eu estava à cerca de uns cinco metros de distância do grupo dos supostos “moleques”. Um deles descrevia um sonho parecido com o meu. Eu entendia perfeitamente ele designar os termos para aquilo que eu teria sentido na noite do meu sonho. Cheguei-me mais um pouco, ávido por reconhecer ali um “igual”, um menino que como eu, padecia daquele mal noturno tão torturosamente humilhante, e escondendo-me atrás de uma palmeira, esbugalhando os olhos famintos e abrindo bem os ouvidos, pude escutar termos que para mim eram uma novidade, como: “tesão”, “esperma”, “gozo” ─ expressões essas que os meus pais com certeza reprovariam, mas lá no fundo eu sabia que eles não conseguiriam explicar de uma outra maneira.
O doloroso dilema entre abdicar do maior prazer carnal ou satisfazê-lo, me dilacerava, ante a ameaça de punição. Cambaleava assim entre estes dois elementos importantes: a culpa e a lei moral. Nos sonhos a autoridade maior era contestada, dando-me a liberdade subjetiva de deixar fluir o gozo pulsional contido. Com o tempo passei a desenvolver o que se chama na psicanálise, de REPRESSÃO dos desejos. Algumas vezes, o impulso era tão agressivo, que não tinha mecanismo de repressão que desse conta. A luta descomunal entre a moral e o mundo dos sentidos acabava pendendo sempre para o lado deste, como mais tarde pude aprender em Paulo, “o mal que não quero, este faço”. O desejo engatilhava a pólvora dos instintos mais passionais, e uma vez acionados não havia água que apagasse aquela fogueira, os ventos somente a atiçavam mais. Aliás, Machado de Assis disse certa vez que, assim como o vento apaga as velas, e açoita as fogueiras, assim acontece aos instintos aminalescos do homem.
A religião, por sua vez, foi durante certo tempo uma arma poderosíssima, que fez nascer em mim um antagonismo aos meus próprios sentimentos. Porém, nessa batalha, eu me quedava encarcerado pelas grades e os pesados grilhões do desejo, dependente das terríveis forças sexuais que pulsavam dentro de mim, e dos exércitos incansáveis da luxúria, que combatiam incessantemente para me refestelar com a gratificação carnal fluidificada na forma de prazer, e, portanto, eu não achava meio ou caminhos para poder me controlar. Somente mais tarde me dei conta de que talvez Oscar Wilde tivesse mesmo razão ao dizer que “não há outro jeito de livrar-se de certas tentações a não ser sucumbindo a elas”. A despeito de tudo, nunca contei nada aos meus pais, até porque nada eles poderiam fazer. Lembro-me do que disseram para mim, quando minha mãe estava prestes a ter um filho: “Você vai passar dois dias na casa de seu tio, para que a CEGONHA possa trazer um bebezinho pelo telhado da casa”. Tinha vontade de ficar para ver a chegada do enorme pássaro com o meu irmão suspenso no enorme bico, mas meus desejos tinham que ser reprimidos em função da vontade dos meus pais.
Desejar algo contra a vontade superior, era como ser tentado a roubar uma barra de chocolate; o que eu não podia negar, era que gostava mesmo de chocolate.
A única forma que encontrei para não me sentir tão culpado quando experimentava a avalanche de desejos e as borrascas mais tenebrosas das paixões que me solapavam a alma e o coração no início da adolescência , era imaginar que o meu Deus não era tão violento e incompreensível, a ponto de não entender as minhas vicissitudes. O tempo me fez ver, que a guerra travada entre este instinto poderosíssimo e a voz da autoridade moral e religiosa, devia ser amenizada pela conscientização de que, afinal, eu não era um anjo, e sim uma frágil criatura humana, como bem frisou o Apóstolo Paulo aos Romanos(7; 14): “Porque bem sabemos que a Lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob o pecado”.
Chico Buarque, o grande ourives da palavra, uma vez escreveu num felicíssimo verso, “ou será que o deus, que inventou nosso desejo é tão cruel, mostra os vales onde jorram o leite e o mel, e esses vales são de Deus”. Hoje vejo, quando me refiro à repressão, que a psicanálise faz um alerta importante para que possamos nos sair bem dessa peleja entre o desejo carnal e a ética moral religiosa: “Queres que a tua vida seja um eterno sacrifício? Tenhas um Deus (Superego) carrasco”.
Como tenra criança, não podia compreender que a “libido” era algo fisiológico e não imoral. Antes de aprender que tudo isso fazia parte normal da existência humana, fui chicoteado psicologicamente quando cedia aos impulsos mais intensos e prazerosos nas longas noites de inverno.
A supressão ou repressão desses instintos naturais, pode até nos proporcionar um aparente refinamento exterior, mas não impede de nos fazer sofrer por dentro, quando lá no íntimo de cada um, uma avalanche de desejos está à espera de um arrebatamento (não o do apóstolo Paulo), que por alguns instantes, pode nos envolver numa grande maravilha trêmula e tremenda.
Escritores da maior estirpe se debruçaram sobre a complexa e paradoxal natureza humana. Não acharam outra solução, a não ser, a de ter que conviver sabiamente com as forças antagônicas que engendram a nossa alma.
Rilke escreveu: “Se meus demônios me deixassem, temo que meus anjos também fugissem.” O Poeta Olavo Bilac assim se expressou na estrofe final de um de seus poemas: “E, no perpétuo ideal que te devora / Residem juntamente no teu peito / Um demônio que ruge e um Deus que chora.”
As crianças de ontem, pais e avós de hoje, quer nas igrejas, quer nas escolas ou nos lares, ao que parece, ainda não acordaram para a necessidade de encarar como coisa absolutamente normal o desabrochar da sexualidade na criança. Ao invés de oferecerem suporte científico aos ávidos adolescentes, elucidando de uma forma não preconceituosa os sintomas da libido no seu nascedouro, permanecem calados (é mais cômodo), deixando este assunto “tabu” ser explorado pela MÍDIA, de uma forma agressivamente deturpada, para gáudio dos interessados em transformar a manifestação mais natural e maravilhosa do ser humano, em um produto à serviço do erotismo comercial desenfreado e sem nexo.
Crônica de Levi B. Santos, com adaptações de George Bronzeado
Guarabira, 29 de fevereiro de 2008







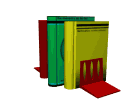




















.jpg)



















