É a partir da infância, que sentimentos de aversão ao outro são introjetados na psique. Esses primeiros afetos
vão definir a personalidade, o mundo de sensações e relações do indivíduo em seu desenvolvimento.
Na minha época de aluno do curso primário,
lembro-me bem de um dos alertas que as mães, pais e professoras davam regularmente:
“tenham cuidado, não brinquem com os moleques
de rua!” ― os marginalizados, como hoje são definidos. Tempo em que os
mestres e tutores repeliam com rigidez tudo que pudesse colocar em risco a
integridade psíquica dos educandos. A escola funcionava como um filtro de
depuração da “impureza” e maldade presumivelmente existentes nos encarcerados, desempregados e
deseducados (sempre os lá de fora). Era na hora do recreio da escola que nos
soltávamos e dizíamos rindo aos borbotões: “se
a professora soubesse do que estamos aqui a tratar e falar, nos expulsava”.
Fomos educados (treinados) e amansados por um sistema rigoroso, uma moenda que recalcava os desejos e afetos
considerados tabus. Só restava um caminho para sobreviver sem muito atropelo: nos identificarmos com a postura de nossos mestres
pais e tutores.
Não percebemos que padrões construídos na infância, e que hoje mal nos lembramos, deixaram suas
ressonâncias na idade adulta. Sutilmente, essas sementes plantadas na tenra
idade criaram raízes. Hoje, nem notamos, mas a seiva absorvida através das raízes continua
correndo em nossas veias, agindo em nós, e em nossa vida de relação. Tal qual o
nosso sistema imunológico, sentimos a febre, mas nem percebemos que este sintoma
é produzido por anticorpos que na tenra idade se formam para reagir contra “corpos
estranhos” que invadem ou ameaçam o nosso organismo.
Como crianças,
assimilamos o padrão comportamental de nossos ancestrais, que com um pudor exagerado
e recalques em relação à sexualidade, detinham um suposto “poder” e uma suposta
“verdade”. E assim, fomos apreendendo comportamentos defensivos contra nossos próprios
desejos. Desejos esses, que os nossos mestres, pais, pastores e padres
consideravam indecentes, perversos ou coisa do diabo. Aprendemos que expor
certos sentimentos era extremamente perigoso. Para sobreviver, fomos, aos
poucos, aprendendo recalcar ou negar afetos ―, emoções puras e fisiológicas da
idade.
Padrões de comportamentos
foram forjados na infância a partir de sentimentos reprimidos. Desejos foram
sepultados dentro de nós, pois, se viessem à tona perante nossos superiores,
nos causariam extrema decepção.
Como raízes solidamente fincadas sob camadas de argila, assim era o nosso indevassável baú de segredos nos primeiros anos de escola. Quando uma ponta de anseios considerados “maus”
emergia, nos sentíamos constrangidos ou demasiadamente envergonhados.
Para esconder ou recalcar
os desejos, considerados ilícitos, criamos máscaras. O grande perigo residia em
nos confundirmos demais com essas máscaras que, com o passar do tempo, podiam
colar-se aos nossos rostos, dando a impressão de ser a continuidade da nossa
própria pele.
Quem não se lembra dos
termos, imbecil, idiota e burro, frequentemente brandidos por nossos educadores? Hoje,
adultos, apesar de entendermos a razão dessas pulsões ou impulsos, percebemos
ainda baterem à nossa porta, os efeitos dos afetos repudiados lá no início de
nossa formação.
O poeta e escritor americano, Robert Bly, diz algo emblemático sobre esse melindroso tema:
“...os aspectos sombrios é como um saco invisível que carregamos nas costas. À medida que crescemos, colocamos no saco todos os aspectos de nós mesmos que não são aceitáveis para nossos familiares e amigos.” Diz ele ainda: “acredito que passamos as primeiras décadas da vida enchendo esse saco, depois, passamos o restante tentando tirar tudo que escondemos”.
Mas será que, como adultos,
retiramos tudo que escondíamos dentro do velho baú? Ou na tentativa de se ver
livre desses resíduos, os jogamos inconscientemente no saco do outro?
Os arqueólogos,
escavadores da psique dizem que o preconceito está a serviço do Eu narcísico:
Tudo funciona como a imagem do outro (o diferente), estivesse sempre ameaçando
o espaço de Narciso.
Uma genial estrofe de SAMPA,
de Caetano
Veloso, diz muito sobre a nossa eterna procura por um Eu ideal. O verso
poético desse grande compositor da MPB parece trazer à superfície fragmentos que estavam enterrados firmemente no subsolo mental. É escavacando minuciosamente esses restos radiculares que iremos, com certeza, encontrar resquícios da seiva do preconceito de achar que é feio tudo aquilo que não reflete a nossa imagem no espelho:
“Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto
É que Narciso acha feio o que não é espelho
E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho
Nada do que não era antes quando não somos mutantes”.
Por Levi B. Santos
Guarabira, 18 de setembro de 2014







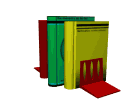





















.jpg)




















