Os numerosos casos de desmoralização que atualmente
têm se intensificado no governo, no Congresso e em nossas principais instituições,
instigou-me a colocar em destaque, logo no início, o epílogo do texto da filósofa.
Faço isso com o intuito de debruçarmos mais sobre o “porquê” da corrupção ter se tornado uma coisa
normal ou banal em nosso país, representada pelo freqüente “toma lá dá cá” entre a esfera pública e a
privada.
“Em um país
como o Brasil, em que a banalidade
do mal realiza-se na corrupção
autorizada, na homofobia, no consumismo e no assassinato de todos aqueles
que não têm poder, seja Amarildo de Souza, seja Celso Rodrigues
Guarani–Kaiowá, uma parada para pensar pode significar o bom começo de um crime
a menos na sociedade e no Estado transformados em máquina mortífera”. [Epílogo do Ensaio da filósofa Márcia Tiburi à revista
CULT]
“Hannah Arendt, filósofa que dá nome ao
filme de Margarethe von Trotta, é autora de uma das obras filósoficas mais
importantes do século 20. A diretora opta por retratar a filósofa como uma
pessoa comum, a professora envolvida com seu trabalho acadêmico, suas aulas e
pesquisas. Fixa o enredo do filme no período em que Hannah Arendt escreveu seu
polêmico Eichmann em Jerusalém.
Tenta mostrar o que se passava com a filósofa, o cenário que a motivou a
escrever o livro cujo conteúdo foi tomado por muitos como um escândalo. O
motivo era a análise desmistificatória de Adolf Eichmann, o carrasco nazista
capturado na Argentina e julgado em Jerusalém em 1962. Esperava–se desse homem
que fosse um monstro, um ser maligno, um louco, cruel e perverso. A percepção
de Arendt acerca do caráter desse personagem histórico, de sua postura comum
que o fazia igual à tanta gente, causou mal estar.
Foi justamente a postura de Eichmann que
permitiu a Arendt cunhar a ideia tão curiosa quanto crítica relativa à
“banalidade do mal”. Por banalidade do mal, ela se referia ao mal praticado no
cotidiano como um ato qualquer. Muitas pessoas interpretaram a visão de Arendt
como uma afronta à desgraça judaica, enquanto ela – filósofa descomprometida
com qualquer tipo de facção, religião, partido ou ideologia – tentava entender
o que realmente se passava com a subjetividade de um homem como Eichmann.
Arendt não tomava sua condição de judia
como superior à sua posição como pensadora comprometida com a compreensão de
seu tempo. A condição judaica era, para ela, condição humana. Não menos, não
mais. O problema da subjetividade, das escolhas éticas que implicam liberdade e
responsabilidade, era a questão central no momento em que se tratava de pensar
e realizar a política.
A performatividade da tese
No filme, fica claro que aqueles que se
manifestaram furiosos ou ofendidos contra a tese de Arendt de fato não a
compreenderam. Isso porque a tese da banalidade do mal é uma tese difícil, não
por sua lógica, mas por seu caráter performativo. Aquele que é confrontado com
ela precisa fazer um exame de sua consciência particular em relação ao geral e,
portanto, de seus atos enquanto participante da condição humana. A banalidade
do mal significa que o mal não é praticado como atitude deliberadamente
maligna. O praticante do mal banal é o ser humano comum, aquele que ao receber ordens não se
responsabiliza pelo que faz, não reflete, não pensa. Eichmann foi caracterizado
por Arendt como uma pessoa tomada pelo “vazio do pensamento”, como um imbecil
que não pensava, que repetia clichês e era incapaz de um exame de consciência.
Heidegger, o filósofo nazista que diz ter se arrependido de aderir ao regime,
era, no entanto, um gênio da filosofia e, contudo, não era diferente de
Eichmann.
Aterrador, no entanto, é que entre
Eichmann, o imbecil, e Heidegger, o gênio, esteja o ser humano comum. Eichmann
não era diferente de qualquer pessoa, era um simples burocrata que recebia
ordens e que punha em funcionamento a “máquina” do sistema, do mesmo modo que
cada um de nós pode fazê-lo a cada momento em que, liberado da reflexão que
une, em nossa capacidade de discernimento e julgamento, a teoria e a prática,
seguimos as “tendências dominantes” como escravos livres, contudo, de si
mesmos. Sair da banalidade do mal é fazer a opção ética e
responsável na contramão da tendência à destruição que convida constantemente
cada um a aderir.
A banalidade do mal é, portanto, uma
característica de uma cultura carente de pensamento crítico, em que qualquer um
– seja judeu, cristão, alemão, brasileiro, mulher, homem, não importa – pode
exercer a negação do outro e de si mesmo”.






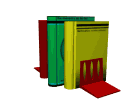





.png)















.jpg)





















2 comentários:
Boa noite, Levi!
Ótimo texto!
Acredito que os profetas bíblicos e o próprio Senhor Jesus Cristo seriam exemplos de homens que deixaram a banalidade do mal indo contra o comportamento comum de sociedade nas épocas em que viveram. Vejamos, p. ex., a maneira como o inesquecível Mestre posicionou-se em defesa da mulher apanhada em adultério e que seria apedrejada por outros pecadores que até aí não se reconheciam em tal condição.
O fato é que grande parte das pessoas não se auto-questiona e prefere cumprir ordens superiores para ter seu "pão" garantido do que ousar seguir outra direção.
Não haveria aí um certo comodismo já que é melhor ficar do lado do mais forte colaborando com as injustiças?
Fico a imaginar como seria o público dos revolucionários profetas bíblicos. Pois enquanto estes discursavam contra os reis corruptos, o povo deveria ficar na plateia assistindo os fatos. Acompanharam Elias até o Monte Carmelo ver no que daria a disputa com os profetas de Baal, permanecendo em cima do muro entre dois pensamentos. Entre Baal e o Senhor, ou entre as injustiças do governo de Acabe e as mudanças pregadas por um profeta em trajes rústicos. No fim proclamaram que só o Senhor seria Deus, mas desconhecemos se a plateia foi capaz de quebrar seus ídolos, isto é, ter deixado realmente o mal.
Enfim, eu poderia dizer que esse mal do colaboracionismo seria um reflexo das escolhas que fazemos pelo mal e uma exteriorização do que vai lá no nosso coração.
Um abraço.
Rodrigo
Não é de hoje que o verbo corromper é conjugado. Tornou-se uma coisa banal desde os primórdios de nossa civilização. O Monarca governava o país como se fosse sua casa, onde o que era público se misturava ao seu patrimônio.
A troca de favores começou a se tornar uma realidade ou norma, desde os tempos de D. João VI, que em troca de apoio distribuía com a elite benesses (títulos de honraria ) em troca de favores. E isto perdura até hoje.
Quando alguém da cúpula trai o outro, é isolado e morto politicamente. Tudo funciona como na Máfia: o delator que antes era o líder da turma da quadrilha, passa a ser um desconhecido, um elemento perigoso à nação.
Quando argüidos sobre Paulo Roberto (diretor da Petrobrás por mais de oito anos,delator do megaesquema de corrupção na empresa), os seus amigos de esquema respondem os bordãos:
“Não conheço esse homem!” “Nunca tive relação com ele” Eu, nada sei sobre o que esse homem está dizendo!” “Eu não sabia!”
Com relação à “banalidade do mal” nos que estão no poder, Hannah Arendt diz:
“ ...o mundo do poder político é perecível. Um mundo em que o conjunto compartilhado de instituições e leis fica relegado ao desaparecimento em determinadas situações”.
Postar um comentário