“Oh,
a Humanidade vive em triste condição!
Nasce
sob uma Lei mas prendem-na a outra:
Tende
à vaidade, querem-na humilde,
Surgiu
enferma e querem-na saudável”.
(Lorde
Brooke)
Vendo
que o
homem paga
um custo muito alto ao
ceder
parte
de seus impulsos instintuais originais para poder
conviver
em um mundo mais ou menos pacificado,
disse
Freud:
“A
nossa civilização está alicerçada na supressão dos instintos”.
A
constatação de que o
instinto
não se suprime e de
que,
por mais que se tente, o
máximo que se pode conseguir
é represá-lo ou reprimi-lo, fez
nascer
em
toda sua plenitude,
o conceito
de
ambivalência,
que também pode
significar ambiguidade,
ou paradoxo.
E esse antagonismo vem de longe. Plagiando
o messias do Novo
Testamento,
eu diria: quem não puder
se ver como
criança não vai entender nada do
reino da
ambivalência, do
reino
dos
sentimentos
paradoxais
ou antagônicos.
Quem
não passou pelos
primórdios da
tal ambivalência na tenra infância? Quem não lembra de que, como
criança, amava
seu
pai
e
por
vezes desejava
livrar-se
dele?
“A
contradição é a marca característica do ser humano”
―
já
diziam os filósofos e estudiosos da alma. Para
se ter ideia de como somos atraídos por um ideal de ego para ser
diferente do que realmente somos,
nada
melhor que alguns
dados estatísticos reveladores
da
contradição ou ambivalência demasiadamente
humana que
persiste em não nos largar, mesmo já “adultos maduros”. Para
que
se possa perceber
o
quanto
as imagens secretas que existem em nossa psique estão
repletas
de
desejos antagônicos,
recorramos
então a uma enquete realizada nos EUA, no final do século XX:
“89%
dos americanos consideraram a sua sociedade demasiadamente preocupada
em ganhar dinheiro; 74% responderam que o materialismo excessivo dos
indivíduos era um grande problema social. Pasmem: 76%, em outro
quesito, fizeram ver que ter dinheiro os deixava
bem consigo mesmo; 76% desejavam ganhar mais, e 74% gostariam de ter
uma bela casa, um carro novo e outras coisas dessa
magnitude”.
O
apóstolo
Paulo,
em sua epístola aos Romanos, já
fazia menção a esse velho conflito. Tanto é, que
num
rasgo de espontaneidade incomum assim se
expressou:
“Porque
eu sei que em mim, isto é na minha psique, não habita bem algum; e
com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
(Romanos 07: 18). Nesse
mesmo diapasão, afirmou,
Eduardo
Giannetti, a
respeito do
difícil equilíbrio entre a
realidade
e o sonho,
mundo
ideal
ou
utopia:
“Há
uma guerra anticolonialista na alma de cada um. Duas verdades medem
forças. De um lado, está o princípio
da realidade:
se o sonho
ignorar os limites do possível, ele se torna quixotesco”.
Paul
Tillich,
em “Teologia
da Cultura”
(página 245), já fazia
ver
a distância enorme entre o “desejado”(aquilo
que se deseja para si) e o “desejável”
(de fundo coletivo – idealista): “Esse
é o nosso destino melancólico desde o começo da história humana e
deverá permanecer enquanto houver vida humana consciente”.
O
homem, enfim,
é
esse
ser paradoxal que enquanto
prega a
salvação para
os deserdados e marginalizados, trabalha desesperadamente para ficar
mais seguro
e
distante daqueles
que diz amar. Temeroso
da própria sociedade
ergue
para si, altos
muros
eletrificados em torno de suas casas que mais
parecem
fortalezas em época de guerras. O
homem é esse ser que está em
um
movimento pendular, ora
se
identificando com
o
polo
que
considera “positivo”,
ora com o polo “negativo”
de
sua ambivalência, como bem explicita Kênia
Kemp
no
trecho abaixo, pinçado do
seu antológico
artigo
―
“Identidade
Cultural”
(“Antropos
e Psique”
―
Editora Olho D'água):
“Quando
queremos nos apresentar a estrangeiros para nos valorizar, trazemos à
tona traços da tradição e peculiaridades que nos identificam como
brasileiros: a cordialidade, informalidade e alegria. Entretanto,
entre nós são comuns expressões depreciativas: 'Brasileiro é
preguiçoso'; 'a terra é boa, mas tem um povinho…'. Enfim,
qualquer grupo de
alguma forma coloca em questão a legitimidade dos traços de sua
identidade, que inclusive podem ser modificados, ampliados ou
reprimidos. Enquanto forem legitimados, permanecerão”.
Esse
ente
dúbio
sem ter ideia de que
tem a
alma
cindida
entre dois polos ou
afetos antagônicos, por
um mecanismo de projeção bem evidenciado na religião ocidental,
acha
que o mundo (e
não ele próprio)
é
que está
dividido entre ele
e os outros;
não percebe que nas imagens que tem dos outros que lhe trazem
perigo, residem
as partes negativas ou rejeitadas de seu próprio ser. Os
lá de fora são,
como na versão bíblica, “bodes
expiatórios”
para projeção de tudo quanto percebe de
ruim
ou
pecaminoso,
a
fim de se sentir
purificado.
E
o que dizer então sobre esse sonoro e belo afeto, que para
contrabalançar o ódio
(polo negativo) de nossa ambivalência, o denominamos amor?
Segundo o famoso psicoterapeuta americano, Rollo
May,
“...o
próprio amor passou a ser problema. Tão contraditório tornou-se na
verdade, que alguns que se dedicam ao estudo da família concluíram
que “amor” é apenas o nome dado ao controle exercido pelos
membros mais poderosos sobre os demais.[
“Eros
e Repressão” (pag.
13) ―
Rollo
May ―
Editora
Vozes]
Mas
o
conflito humano (ou
intrapsíquico), na
verdade,
se dá sempre
entre
o que queremos ou
idealizamos
ser e o que realmente somos. A
parábola neotestamentária do “Joio
e do Trigo”(Vide
Link),
que
há
algum tempo tinha
seus símbolos antagônicos
interpretados
para
identificar
e separar
as pessoas do “bem” daquelas
do “mal”, com o advento da psicologia profunda
já pode ser compreendida, em
sua
forma mais profunda, como metáforas dos afetos ambivalentes ou
ambíguos que habitam
em
cada
ser humano. “O
Inferno são os Outros” ―
célebre frase dita
por
Sartre
―,
pode
ser considerada
uma espécie de crítica aos
puritanistas,
que advogavam
a separação entre santos(trigo)
e pecadores(joio),
sem
ao menos perceber que o santo
e o pecador,
a
um olhar mais reflexivo,
andam
a trocar de papéis
de uma maneira sutil ou
quase imperceptível.
A psicologia
junguiana
disseca,
pormenorizadamente, a
paradoxalidade de
nossos
afetos, tornando
mais evidente seu mecanismo
de
identificação
imaginária,
como
a “ilusão
de se criar uma imagem pública a partir das características que
julgamos aceitáveis, deixando de fora algumas partes mais
importantes e saborosas de nós mesmos” (“O
Efeito Sombra” ―
Debbie
Ford)
Ao
discorrer sobre a paradoxalidade da ambivalência na sociedade,
Zygmunt Bauman, deixou-nos
essa contundente observação:
“a
modernidade é uma era de ordem artificial e de grandiosos projetos
societários, a era dos planejadores, visionários e, de forma mais
geral, 'jardineiros' que tratam a sociedade como um torrão virgem de
terra a ser planejado de forma especializada[…]. Não há limite
para ambição e autoconfiança. Com efeito, pelas lentes do poder
moderno, a 'humanidade' parece tão onipotente e seus membros
individuais tão incompletos, ineptos, submissos e tão necessitados
de melhoria, que tratar as pessoas como plantas a serem podadas (ou
arrancadas se necessário) ou gado a ser engordado não parece ser
uma fantasia, nem moralmente odioso”. [“O
Mal-Estar da Pós-Modernidade” ―
Zygmunt
Bauman]
Traduzindo
para o mundo pós-moderno, a máxima ―
“Quem nos livrará do corpo dessa morte?” ―
dirigida aos Romanos por Saulo de Tarso, penso que
ficaria mais ou menos assim: Quem livrará o
nosso EU, do peso da Contradição? Quem
atentar para essa brilhante
enunciação da dúbia alma
humana realizada pelo apóstolo fundador do cristianismo, verá
que ela está em perfeita
consonância com o sujeito da psicanálise, que às avessas do jargão
cartesiano “penso, logo existo”,
abarca
o Homem Paradoxal
com esta emblemática frase: “Penso onde não sou;
sou onde não penso”.
“Meu
Eu Paradoxal”
“Com
uma face emancipada e outra dependente
Marcado
pela lei dúbia do desejo ambivalente
Vivo
como irmãos, despossuídos mutuamente
Sem
poder traduzir meu ser incongruente”.
[“Parte
Delirante de Mim” – “Ensaios & Prosas” – julho de
2011]
Por Levi B. Santos







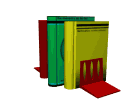





.png)















.jpg)




















