Um
lúcido e desconcertante artigo publicado pelo psicanalista, escritor e ensaísta
Luiz
Felipe Pondé, ferrenho crítico do que se convencionou hoje como o “Politicamente
Correto”, despertou sobremodo a minha atenção. Nesta segunda feira (dia 27), em
sua coluna semanal da Folha de São Paulo, seu ensaio explorou de maneira
simples, profunda e cortante, a tal da “ambivalência”
― tema que Freud passou a sua vida remoendo ―, sem nunca deixar de ligar a
sua origem aos primeiros sentimentos paradoxais dos filhos com relação ao pai,
e vice versa.
O
artigo mostra o quanto é doloroso e praticamente impossível ganhar a guerra
contra a ambivalência. Ganhar essa batalha significaria excluir os conflitos de
nossa existência, ganhá-la seria negar, o óbvio: a bipolaridade de nossos
afetos (de um lado, o que somos, e do outro: o que pensamos que somos)
O
alicerce de nossa cultura está firmemente arraigado à ambigüidade, isto é, ao
desejo de manter a normatividade vigente e, ao mesmo tempo, desejar a sua desconstrução.
Há quem veja na ambivalência, as
atitudes covardes e heróicas do homem.
Sobre
esse intrigante tema que, intrinsecamente, fala a respeito de nós mesmos, convido
o leitor(a) amigo(a) a conferir o significante ensaio de Pondé, replicado aqui, com
os devidos créditos. Espero que leiam bem devagar, como quem está degustando uma
boa comida. (rsrs):
(Por Luiz Felipe Pondé)
Você esconderia
Judeus em sua casa durante a França ocupada pelos
nazistas? Não, não precisa responde em voz alta.
Melhor
assim, para não passarmos a vergonha de ouvirmos nossas mentiras quando na
realidade a janta, o bom emprego e a normalidade do cotidiano sempre valeram
mais do que qualquer vida humana. Passado o terror todos nós viramos corajosos
e éticos.
Anos
atrás, enquanto eu esperava um trem da estação de Lille, na França, para voltar
para Paris, onde morava na época ― ainda bem que tinha minha família comigo
porque paris é uma cidade hostil ―, li a resenha de um livro inesquecível na
revista “Nouvel Observateur”.
Nunca
li esse livro, mas a resenha era promissora. Entrevistas com filhos e filhas de
pessoas que esconderam judeus em casa durante a Segunda Guerra davam
depoimentos de como se sentiram quando crianças diante de atos de coragem de
seus pais e suas mães.
A
verdade é que essas crianças detestavam o ato de bravura de seus pais. Sentiam
(com razão?) que não eram amados pelos pais, que preferiam por em risco a vida
deles a protegê-los, recusando-se a obedecer a ordem: quem salvar judeus morre
com eles.
Podemos
“desculpar” as crianças dizendo que eram crianças. Nem tanto. Adolescentes
sentiam o mesmo abandono por parte dos pais corajosos. Cônjuges idem. Está
justificada a covardia em nome do amor familiar? Nem tanto, mas deve-se
escolher um estranho em detrimento de um filho assustado?
Tampouco
dizer que os covardes seriam vítimas vale, porque o que caracteriza a coragem é
não se fazer de vítima – coisa hoje na moda, isto é, se fazer de vítima. Não foi muito diferente
aqui no Brasil durante a ditadura, guardando-se, claro, as dimensões do massacre.
No entanto, não me interessa hoje essa questão
da falsa ética quando o risco já passou – a moral de bravatas. Mas
sim a ambivalência insuportável que uma
situação como essa se desvela, na sua forma mais aguda.
Ou meu pai me ama ou ama o judeu escondido em
minha casa, ou ele me ama, mas não consegue dormir com a idéia de que não salvou
alguém que considerava vítima de uma injustiça, e por isso me põe em risco. Eis
a razão mais comum dada por esses pais, quando indagados de pôr em risco sua
vida e família: “Não conseguia fazer diferente”. Mas a ambivalência da vida não se resume a casos agudos como esses.
Freud descreveu os sentimentos
ambivalentes da criança para com o pai, no Complexo de Édipo: amo meu pai, mas
também quero me livrar dele.
Independente de crer ou não em Freud plenamente (sou
bastante freudiano no modo de ver o mundo, e Freud foi primeiro objeto de estudo sistemático em minha vida), a ambivalência aí descrita serve como matriz para o resto da vida.
Os pais amam os filhos (nem sempre), mas ao
mesmo tempo ter filhos limita a vida num tanto de coisas (e hoje em dia muita
mulher deixa de ser mãe aos 40 por conta deste medo, o que é péssimo porque a
mulher biologicamente deve ser mãe antes dos 35). Apesar dos gastos intermináveis,
no horizonte jaz o possível abandono na velhice por parte destes mesmos filhos “tão”
amados.
Mas, ao mesmo tempo, não ter filhos pode ser
uma chance enorme para você envelhecer como um adulto infantil que tem toda sua
vida ao redor de suas pequenas misérias narcísicas.
Casamento é a melhor forma de deixar de querer
transar com alguém devido ao esmagamento do desejo pela lista infinita de
obrigações que assolam homens e mulheres, dissolvendo a libido nos cálculos da
previdência privada.
Mas, ao mesmo tempo, a liberdade deliciosa de
transar com quem quiser (ficar solteiro), com o tempo, facilmente fará de você
uma paquita velha ridícula sozinha que confunde pagar por sexo com um homem
mais jovem com emancipação feminina. E, no caso do homem, o tiozão babão
espreita a porta.
E, também, terá razão quem disser que mesmo
casando você poderá vir a ser uma paquita velha ou um tiozão babão.
Quantas ambivalências espera você nessa semana?
P.S.:
É mordaz e irônico esse Pondé. Ele nada contra a “maré”, e não está nem um
pouco preocupado com o fato de desagradar a maioria.











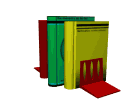





.png)















.jpg)




















