Tarde de domingo. O sol espargia seus últimos raios sobre os telhados dos casarios do meu bairro, deixando sombras em um lado da rua, e claridade ofuscante de cor dourada nas fachadas das casas do lado oposto. Mais tarde as sombras tomariam todo o bairro, trazendo logo após, as trevas representadas pela noite com seus medos e suas lucubrações fantasmagóricas em forma de pesadelos. Fazia um silêncio convidativo para uma reflexão ou uma leitura amena, porém decidi junto com minha esposa, visitar o amigo Joel, que se encontrava muito enfermo. Desde o início de sua doença eu estava vivenciando uma personificação dupla: eu era o seu médico e seu amigo confidente ao mesmo tempo, o que deixava os aconselhamentos profissionais que fazia, recheados de tiradas de humor, terminando quase sempre em frases de duplo sentido, que nos incitava a dar sonoras gargalhadas.
Chegando a sua casa, tive uma grata surpresa, ao encontrar a maioria de seus parentes mais próximos, e alguns amigos mais chegados a conversar sobre fatos do cotidiano. Era assim que o meu amigo Joel, gostava de ficar no entardecer dos domingos e feriados. Ao olhar para o seu semblante envelhecido naquele fim de tarde, algo me dizia que estava presenciando uma de suas últimas reuniões no velho calçadão de pedras quadradas, que ele mesmo construíra, desfazendo uma pequena horta que existia no local. Conversa vai, conversa vem, eis que ele se dirige para mim desta forma:
─ Levi, me diz o que isto significa: ultimamente, qualquer objeto pequeno que eu seguro, parece tão pesado como chumbo!
Sabia que o seu fígado nas condições em que estava, não podia metabolizar o pouco que ele ingeria, e que a tendência era o agravamento do seu estado nutricional. Deixei propositadamente de responder a sua indagação, para sair com uma pergunta sobre o estado de seu coração, uma vez que o mesmo tinha sofrido um enfarte recentemente e estava tomando medicamentos que podiam estar sobrecarregando mais ainda a sua função hepática.
Perguntei com um ar sério:
─ Joel, e o teu coração como está? Estás sentindo alguma coisa?
Ao que ele respondeu com a maior presença de espírito, de um modo brincalhão e ao mesmo tempo poético:
─ Estou sentindo um negócio estranho no peito, Levi.
─ Diga logo, rapaz, para gente tomar as precauções devidas. Disse eu, em tom de advertência.
─ Sabe o que é que tenho no coração? É uma saudaaaadeee.... Respondeu metaforicamente o meu amigo, esboçando um ar de quem tinha me tirado de tempo.
Rimos demoradamente. O Joel era genial. Até em horas como aquelas, ele brincava com a vida. Estava ali, com o corpo a negar fogo, mas o espírito era o de sempre: alegre e jovial.
Quando debatíamos sobre religião, o amigo Joel mudava de aspecto, se mostrava muito compenetrado. Eu ficava verdadeiramente impressionado com a sua descrição apaixonada do livro de Apocalipse, quando ele relatava detalhadamente como seria o milênio de paz em Jerusalém, com a igreja descendo com Cristo para reinar na terra, todos já com corpos transformados, imune às doenças e a morte. Na sua imaginação parecia já estar antegozando as delícias do porvir. Porém, uma coisa o deixava um tanto desapontado nesta história da revelação de João. Exclamando para mim, apertando vigorosamente uma mão contra outra, ele falava:
─ O que me encabula, é que nós, com corpos transformados, como vamos nos misturar com a geração dos que não foram arrebatados e que ficaram aqui na terra? Perguntava ele com a mão em punho esmurrando a outra.
─ O livro do Apocalipse é terreno perigoso, Joel. Principalmente quando a sua mensagem é transportada para o nosso imaginário de uma maneira literal, concluía eu.
De há muito, através de minhas intermináveis leituras, eu chegara a conclusão de que tudo no livro do Apocalipse era simbólico, e devia ter uma significado espiritual e não literal, que o meu amigo veementemente discordava. Tínhamos, porém, algo em comum: Ambos apreciávamos uma boa música tocada com instrumentos de cordas. Fora justamente na véspera deste domingo que fizemos um ensaio musical que me tocou profundamente pelo tom solene em que se deu. Já passava das treze horas do sábado, e o meu amigo Joel não demonstrava sentir a fome que me consumia o estômago. Parecia não querer findar aquele concerto. Solava em seu bandolim, os mais belos hinos da Harpa Cristã, acompanhado por meu filho George, ao violão. Eu observava naquela ocasião, o esforço impetuoso que ele fazia para tirar das cordas do seu querido instrumento, os acordes que às vezes saiam do compasso, devido à fraqueza muscular que deixava os seus dedos trêmulos. Imaginava comigo: cada corda dessas devia estar pesando mais que uma corrente de ferro, contudo, ele continuava firme, e resoluto no seu propósito de tocar enquanto força tivesse. Será que alguma coisa no seu coração dizia que aquele seria seu último louvor? Será que ele pressentiu naquele momento, que afinara o seu instrumento para tocar pela ultima vez os seus prediletos hinos? Não sei exatamente o que se passava por sua cabeça naquela hora. Só sei, que o amigo do peito consumido pela doença atroz, não estava mais no plano carnal e terreno. Pedi para sair, pois tinha muitos afazeres e já eram quase duas horas da tarde. Ele com a voz rouca e fraca me dizia: ─ não vá agora Levi, espere mais! George ficou compartilhando por mais tempo daquele sublime culto, enquanto eu, pesaroso e vergonhoso, saía para cuidar das obrigações costumeiras de um dia de feira.
Segunda-feira às cinco e trinta da manhã, justamente doze horas após aquele saudoso encontro de domingo no calçadão, o telefone toca a minha cabeceira. Era a voz embargada de Ozibete, esposa do amigo Joel: “Levi, corre aqui, Joel parece que está morrendo”!
Troquei ràpidamente de roupa e saí em meu carro, em desabalada velocidade, rumo a sua casa. Lá chegando vi o amigo muito pálido, com respiração superficial. Pressão baixíssima (8x4). Luza (minha esposa), Enódio (seu cunhado) e eu o tiramos com muita dificuldade da cama e o colocamos no banco dianteiro do meu automóvel, para sair rumo ao Hospital. Foi quando tentando acomodá-lo melhor, ouvi, o que seria a sua última palavra: MERDA!!!, disse com o ar de quem estava sendo contrariado. Nada mais falou, entrando em um coma do qual não mais sairia.
O Joel foi sábio até em sua última palavra. Existe um vocábulo mais perfeito do que este, para expressar o que somos realmente nesta vida comum? Assim como o pó é o produto final da construção humana (para o pó voltarás), da mesma forma as fezes são o produto final de tudo quanto absorvemos e ingerimos nesta vida.
Jó, o personagem bíblico que se tornou paradigma do sofrimento físico e existencial do homem, em sua agonia também se expressou como o meu grande amigo Joel: “De sorte que o homem se consome como uma coisa podre...”(Jó 13. 28)
É, até na hora do desenlace fatal, o Joel falou em sentido figurado, isto é, deixou-me um enigmático presente, uma palavra de duplo sentido. Só vim entender depois.
Crônica por Levi B. Santos.
Guarabira, l3 de Agosto de 2006












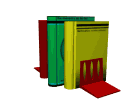





.png)















.jpg)




















