O Caso Dreyfus
ocorrido na França no fim de 1894, só veio
confirmar o óbvio – “o de que psicologicamente
falando, o judeu emancipado não pertencia ao país em que vivia”. Por outro
lado, o país cuja regra de procedimento jurídico tinha por lema “liberdade, igualdade, e fraternidade”,
experimentava também o seu paradoxo,
quando traiu seus princípios fazendo valer o anti-semitismo, ao condenar sumariamente
e injustamente um oficial Francês (de pais judeus), de espionagem em favor da
Alemanha, que também tinha “judeus emancipados” no comando de seus exércitos.
A idéia sionista
apregoada por Benjamin Disraeli em seus escritos, deve ter concorrido como
uma das causas na disposição de se encontrar um judeu para ser o “bode
expiatório” das primeiras escaramuças que desembocaram na primeira guerra
mundial, uma vez que, inconscientemente, o próprio judeu tinha aversão ao conceito
de igualdade expandido mundialmente
pela revolução francesa.
Uma boa parte dos europeus desconfiava de que os
judeus emancipados (mas saudosos de sua Sião) não estavam imbuídos do mesmo compromisso
nacionalista dos cidadãos que tinham a sua pátria a defender.
Afirma Hannah: “O caso Dreyfus, em suas
implicações, pode sobreviver porque dois de seus elementos cresceram em
importância no decorrer do século XX. O primeiro foi o ódio aos judeus; o
segundo a desconfiança geral para com a República, o Parlamento e máquina do
Estado. A maior parte do público podia ainda continuar a conceber, certa ou
erradamente, que esta última estivesse sob a influência dos judeus e do poderio
dos bancos. Ainda em nossos dias o termo ‘antidreyfusard’ pode definir na França, de modo aceitável tudo que
é anti-republicano, antidemocrata e anti-semita”.
“A caçada
apaixonada ao judeu em geral não pode ser compreendida só como mero movimento
político” – revela Hannah Arendt.
Mais tarde, Sartre em seu livro, “A Questão
Judaica”, viria corroborar
o pensamento de Hannah, ao dizer que não se podia traduzir o anti-semitismo só
pelo viés político-econômico. “Se o
Judeu não existisse, o anti-semita o
inventaria” – assim falou o francês filósofo existencialista. O Caso Dreyfus,
anos depois, se explicaria de maneira mais filosófica, subjetiva e psicológica,
como demonstra este trecho da “Questão
Judaica” (editora Ática, páginas 34 e 35):
“O anti-semita escolheu ser criminoso, e criminoso de mãos limpas; mais
uma vez foge às responsabilidades; reprimiu seus instintos homicidas, mas
encontrou um meio de saciá-los sem admiti-los. O anti-semita é um homem que tem
medo, certamente não dos judeus, mas de si mesmo, de sua consciência, de sua
liberdade, de suas responsabilidades, da solidão, da sociedade e do mundo ― de
tudo, exceto dos judeus. Adotando a essa postura, ele não adota apenas uma
opinião, mas escolhe também a pessoa que quer ser.”
O caso Dreyfus tanto provocou ódio, como
paixão. Freud, (só poderia ser um judeu) mais tarde em seus trabalhos
de psicanálise, explicaria o fenômeno de
projeção psíquica presente no
anti-semitismo, como conta aqui, Hannah: “O que falar de Emile Zola, um contemporâneo de Dreyfus, com seu apaixonado fervor moral, sua atitude patética um
tanto fútil, e sua declaração melodramática, à véspera da fuga para Londres, em
que diz ter escutado a voz de Dreyfus
implorando-lhe esse sacrifício”.
O certo é
que o paradoxal caso Dreyfus dividiu a França: fez chorar uma parte dela, e
fez arder de ódio sua outra parte. Por incrível que pareça, antes da explosão
da primeira guerra, o anti-semitismo quase não existia nas fileiras dos
exércitos alemães. A razão principal de o anti-semitismo ter a França como
berço, advinha do fato de Napoleão ter emancipado os judeus em
todos os territórios por ele conquistados.
“O judeu é escolhido como alvo
desta construção delirante porque historicamente estava associado ao
Anticristo, através de todos os laços que pudemos discernir; porque social e
economicamente, as novas oportunidades abertas pelo capitalismo o beneficiaram;
porque, culturalmente, a assimilação da civilização ocidental o dota de
instrumentos para participar dela, e mesmo para criticá-la, porque a maioria
dos judeus continua a não se converter; e porque, em virtude de todos esses
fatores inicia-se um processo de assimilação que tende a reduzir sua diferença
frente à sociedade não judaica, isto é, tende a torná-lo exteriormente, e em
certa medida, interiormente idêntico aos nãos judeus.”
Para se compreender o pensamento de Hannah
Arendt sobre a condição ambígua e subjetiva do judeu e do não judeu,
temos que nos reportar a esses acontecimentos que antecederam a primeira guerra
mundial. A história desse povo até a segunda guerra mundial gira em torno da
não aceitação do diferente. É o diferente que usamos para exorcizar o que há de
estranho em nós mesmos. Até dentro do seio de uma própria família há sempre um
que por não se enquadrar numa situação homogênea igualitária pré-determinada, é
excluído do grupo. Isto é um dado muito importante para se entender a raiz ou a
origem do totalitarismo.
“Com efeito, o mundo
contemporâneo, caracterizado pelo desemprego crônico, pela automação, pela
superpopulação e pelo risco onipresente da guerra nuclear, não há como não concordar
com o pensamento de Hannah Arendt,
quando ela afirma: ‘os acontecimentos políticos sociais e econômicos de toda
parte conspiram silenciosamente com os instrumentos totalitários inventados
para tornar os homens supérfluos’. De fato, se a guerra e a miséria são
indiscutivelmente dois dos problemas centrais do nosso tempo, e se estes dois problemas
têm como núcleo o absurdo e paradoxal contraste entre um excesso de poder ― que cria, através da
multiplicação dos meios da violência, as condições para uma verdadeira guerra
de extermínio nuclear e também para o terrorismo de indivíduos e pequenos
grupos ― e um excesso de impotência ― que vem condenando grandes massas à
miséria e à fome, parece-me que a reflexão de Hannah Arendt sobre o totalitarismo e os riscos que ele contém de
converter todos em supérfluos, guarda uma terrível e impressionante
atualidade”.
Há holocaustos e holocaustos; há genocídios e
genocídios. Segundo Zygmunt Bauman em seu livro “Modernidade
e Holocausto” (página 114):
“O genocídio moderno é diferente. O genocídio
moderno é um elemento de engenharia social, que visa produzir a uma ordem
conforme o projeto de uma sociedade perfeita. A cultura moderna é um canteiro
de jardim. Defini-se como um projeto de vida ideal e um arranjo perfeito das
condições humanas. Constrói sua própria identidade desconfiando da natureza.
Com efeito, define-se a si mesma e à natureza, assim como a distinção entre as
duas por sua desconfiança endêmica em relação à espontaneidade e seu anseio por
uma ordem melhor, necessariamente artificial.
Bernardo Sorj, formado em História
dos Judeus pela Universidade de Haifa em Israel e professor da UFRJ, sobre
os judeus da pós-modernidade, faz uma afirmação extraordinária, evidenciando a
condição judaica artificial no século XXI:
“O judaísmo
moderno ― tanto o secular como o religioso ― quis ser sistemático e coerente,
centrado no outro e não em si mesmo, isto é, autojustificatório. Foi
impulsionado por uma forte tendência a querer legitimar sua existência pela
‘contribuição do judaísmo à cultura universal’ ― como se o direito de existir
dependesse da produção de prêmios Nobel ―, forçando a convergência e mesmo a
identidade entre os valores judaicos e os valores modernos definidos pelo
Estado nacional. A vontade racionalista do judaísmo moderno procurou encobrir o
dilaceramento existencial e prático da vida judaica, que desejava e deseja ser
ao mesmo tempo universal e particular, igual e diferente, manter múltiplas
lealdades, transitar por vários mundos, estar no centro e nas bordas de cada
sociedade, inclusive, como vemos na sociedade israelense[...]. [...] Israel
representa um caso típico do esforço sistemático que os Estados nacionais
desenvolveram para destruir a diversidade cultural de sua população. O esforço
fracassado de criar uma cultura judaica secular ‘naturalista’ e desapreço pela
diáspora como fonte de valores e de vivência criativa foram elementos
constitutivos do esforço normalizador, normatizador e disciplinador da
ideologia e do sistema educacional que se implantou em Israel. O sionismo foi
sem dúvida o movimento que mais fustigou a diáspora, propondo inclusive seu fim[...].
[...] A diáspora foi demonizada como responsável pelos séculos de
perseguições.”
O escritor e pensador Nilton Bonder, presidente
da congregação israelita do Brasil, diz algo duro e veementemente verdadeiro:
“Compreender
o monoteísmo não apenas como a religião de um D’us único, mas de apenas um
povo, é um ato de triunfalismo no século XXI. Jerusalém se tornou símbolo de um
triunfo, e se há algo que a paz não é... é ser fruto do triunfo”.
“No
momento, o estado de Israel não assegura plenamente os direitos ao
desenvolvimento e a prática da livre consciência. Ele dá o monopólio na área de
direito civil a uma única corrente dentro do judaísmo, excluindo outras
correntes religiosas e os judeus (e árabes) seculares”.
Termina aqui a terceira e última parte
de uma reflexão sobre os judeus na sociedade durante os séculos XVIII – XIX, baseada no pensamento de Hannah Arendt. Para análise dos judeus no século XXI, recorri aos renomados autores: Zigmunt Bauman, Bernardo Sorj
e Nilton
Bonder.
FONTES:
●Hannah Arendt, Origens
do totalitarismo – (páginas 90 à 114) – 8ª edição – Companhia das Letras
●Jean Paul Sartre, A
Questão Judaica – (páginas 34 e 35) – Editora Ática
●Renato Mezan, Psicanálise,
Judaísmo: Ressonâncias – (página 126) – Editora
Imago
●Celso Lafer, Um
Diálogo com o Pensamento de Hannah Arendt – (página 113) – Edição 2006 – Companhia
das Letras
●Zygmunt Bauman, Modernidade
e Holocausto – (página 114) – Edição
1989 – Jorge Zahar Editor
●Nilton Bonder e Bernardo Sorj, Judaísmo para o Século XXI – (páginas 47 à 49 e 124 à 130) – Edução
2001 – Jorge Zahar Editor
Site da Imagem:evaklabin.blogspot.com










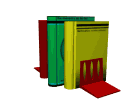





















.jpg)




















